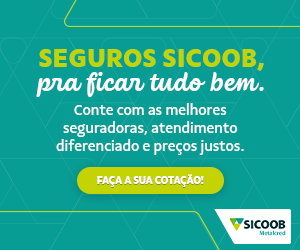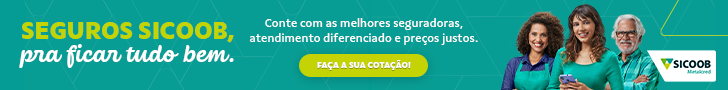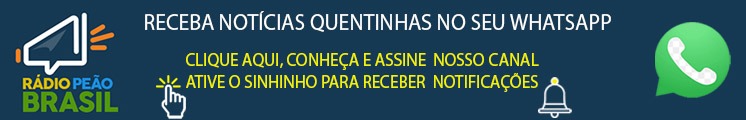Foto: Gabriella Zanardi
Entrevista com Glaucia Cristina Candian Fraccaro
A historiadora e pesquisadora Glaucia Fraccaro, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), conseguiu uma proeza rara no meio acadêmico: estudar a fundo – e com competência – a relação entre o movimento operário e as lutas das mulheres no Brasil. Como a história do feminismo à brasileira sofre do que certas autoras chamam de “uma perversa operação de classe”, Glaucia inovou ao contar essa história “a partir de uma visão ‘das de baixo’”.
O sindicalismo já era o foco de trabalho da pesquisadora no mestrado. Uma vez no doutorado, seu ponto de partida foi a Greve de 1917. Daí surgiu a tese “Os Direitos das Mulheres – Organização Social e Legislação Trabalhista no Entreguerras Brasileiro (1917-1937)”, defendida por Glaucia em 2016. Nesta entrevista, a pesquisadora – e agora doutora em História Social do Trabalho – reforça o protagonismo das operárias nas primeiras leis nacionais essencialmente feministas. Segundo ela o legado político, “até agora pouco discutido”, do movimento de trabalhadoras ao feminismo, “foi o debate da regulação e dos direitos do trabalho”.
Por André Cintra
André: Quais eram as condições de trabalho das operárias no início do século 20? A que as mulheres eram obrigadas a se sujeitar no dia a dia da fábrica?
Glaucia: O Brasil, ainda nos anos 1920, era mais rural do que urbano. Nas fábricas dos grandes centros, as mulheres compunham 34% da força de trabalho, e, em São Paulo, no setor têxtil, o número de trabalhadoras superava o de homens. As condições de trabalho eram péssimas, com largas jornadas, alto custo dos alimentos e nenhuma garantia de direitos ou benefícios. Além disto, os relatos de abuso por parte de feitores e gerentes de oficinas eram recorrentes.
André: Os homens monopolizavam as primeiras entidades sindicais, mesmo em categorias com grande base feminina. Como as trabalhadoras se organizavam? Quais pautas elas reivindicavam?
Glaucia: A concentração de homens nos cargos de direção sindical nos leva a pensar que a organização das mulheres ocorria de outras formas. Laços de parentesco e de vizinhança somavam-se aos laços de solidariedade dentro das fábricas, de modo que encontramos pequenas greves e paralisações em várias fábricas têxteis da capital. Nesses piquetes, elas reivindicavam melhores salários e o “fim dos abusos” por parte dos feitores de fábrica. No entanto, a forte presença delas nesse ramo também impulsionou políticas de benefício que envolviam diretamente a questão da maternidade – logo depois das greves de 1917, o Parlamento brasileiro passou a debater a licença-maternidade e a instituição de creches como política pública. Até mesmo o empresariado, menos afeito à participação do Estado nas tomadas de decisão sobre relações de trabalho, implementava, por iniciativa própria, uma política de benefícios que manteria as mulheres nas fábricas por mais tempo e mais liberadas dos cuidados das crianças. Estas medidas foram interpretadas como ações paternalistas de autoridade, mas é certo que parte dos seus esforços consistia em propagandear que não havia necessidade de intervenção pública no mundo das indústrias.
André: Já havia protestos e denúncias das más condições de trabalho desde o século 19. Por quais singularidades os acontecimentos de 1917 foram além e se converteram na primeira greve geral de nossa história?
Glaucia: A mobilização política de trabalhadores e as greves ganharam, em 1917, uma proporção nacional. O professor Cláudio Batalha atesta que o impacto das ações foi grande, entre outros motivos porque as empresas não guardavam estoques. Assim, as paralisações afetavam diretamente os negócios. O próprio acúmulo do movimento também alertou o Parlamento sobre a necessidade de o Estado se atentar para a “questão social”, que era um termo da época. Deste modo, a pauta do movimento de trabalhadores entrou para a discussão na Comissão de Legislação Social poucos anos depois.
André: As décadas de 1910 e 1920 marcaram a emergência de um movimento feminista mais organizado e influente. Porém, mesmo em correntes avançadas do pensamento feminista, havia uma tendência de sobrevalorizar o papel de expoentes de origens mais privilegiadas, como a bióloga Bertha Lutz e sua Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Por que a atuação das operárias ficou por tanto tempo em segundo plano, à beira do esquecimento?
Glaucia: Há algumas autoras que chamam esse acontecimento de “uma perversa operação de classe”. O feminismo é um campo político, e, portanto, está submetido a disputas de mesmo teor. As disputas em torno dele se refletem em sua narrativa histórica. Quem conta a história do feminismo, quem escreve tais narrativas, percebe os grupos hegemônicos e conta sua história a partir da experiência de quem “venceu”. No entanto, é preciso contar esses enredos também a partir de suas discordâncias, de seus pontos de embate. Assim, poderemos envolver a experiência daquelas que não tinham acesso à imprensa ou aos parlamentares e políticos importantes. É dessa forma também que podemos perceber uma circulação de ideias que não respeitava as fronteiras do Estado-nação, e que pressionava as diferentes organizações de mulheres que se posicionavam no campo do feminismo. A história do feminismo brasileiro não tinha sido contada a partir de uma visão “das de baixo”.
André: A fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, e do Partido Comunista do Brasil, três anos depois, ajudaram a impulsionar o debate sobre os direitos das trabalhadoras. Como essas iniciativas impactaram a luta das mulheres no Brasil?
Glaucia: Para entender isso busquei investigar de que lugar algumas ideias emergiram. Desta forma, resolvi me deter, para dar um exemplo, na lei que garantia a licença-maternidade. De onde ela havia surgido? Quem apoiava e quem era contra? Nessa circulação de ideias, encontrei uma disputa que ajudava a entender os embates no campo político feminista. Havia grupos de mulheres (algumas norte-americanas e outras europeias, mas com presença de mulheres de outros países) que se posicionavam pelo que elas mesmas chamavam de “equidade”. Em outras palavras, elas eram contrárias a qualquer tipo de regulação para o trabalho das mulheres por considerar que as leis poderiam causar a exclusão das trabalhadoras do mercado de trabalho, tornando seus braços mais caros aos patrões. Por isto, elas se diziam a favor de leis e tratados para “equidade” entre mulheres e homens.
Por outro lado, havia um grupo que considerava que apenas a maternidade deveria ser regulada. Nada mais. Havia também um terceiro grupo de ativistas que defendia que deveria haver regulação para todo tipo de trabalho, de forma a preservar quem o exercia e, principalmente, deveria haver leis para regular o trabalho das mulheres. Elas reivindicavam não apenas a licença-maternidade, mas salários que envolvessem o trabalho de cuidados, jornadas específicas e diferentes estatutos de aposentadoria. Todo esse debate emergiu depois da barbárie da Grande Guerra, e estava orientado por uma espécie de medo causado pela vitória da revolução na Rússia.
Os grupos políticos em questão elegeram a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da Liga das Nações, como o fórum principal dos embates. A OIT formulava tratados e convênios internacionais que criavam padrões de legislação para o trabalho no mundo todo.
Este conjunto de questões chegou também para o Partido Comunista. Seus dirigentes perceberam o alcance da formulação de padrões para o trabalho e passaram a considerar as leis para o trabalho de mulheres na atuação direta de suas militantes. Este debate se refletiu mais na atuação das comunistas do que nas resoluções do partido.
No Brasil, essas pressões em torno da regulação do trabalho das mulheres também chegaram via OIT. Além do debate posto entre os próprios grupos brasileiros, o papel da OIT, desenvolvido por meio do Estado, garantiu que o debate por leis e direitos entrasse no governo de Vargas em termos bem parecidos daqueles postos no movimento feminista. Assim, como parte dos compromissos que ele estabeleceu com o povo brasileiro em 1930, Vargas aprovou um decreto que regulava o trabalho das mulheres compondo o “Código do Trabalho”. Esse decreto estabelecia “salário igual para trabalho igual”, licença-maternidade e obrigatoriedade de creches em fábricas e comércio com mais de trinta funcionárias.
André: Quais são os marcos da primeira geração de lutadoras e feministas? De que maneira sua atuação garantiu conquistas e legados para as mulheres?
Glaucia: Eu gostaria de me ater a esta noção de geração feminista, ou, ainda, de “ondas”. A periodização sugerida para contar a história do feminismo, em estudos de história e de ciências sociais, demarca os diferentes momentos do feminismo por meio de “ondas”, e a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino corresponderia à “primeira onda”, quando a organização feminista se concentraria em conquistar o sufrágio das mulheres.
Até os dias de hoje, a história contada sobre elas procura compreender como um movimento desse caráter pretendia lutar pelos direitos das mulheres sem alterar os direitos dos homens, atuando por dentro das instituições governamentais. A explicação encontrada varia entre tratá-las como um “feminismo difuso”, ou ainda como um “feminismo tático”. Estas qualificações denotavam análises que esperavam, mas não encontraram a plenitude da autonomia feminista nos seus “primórdios”. De acordo com este modelo, a “segunda onda” viria apenas muito tempo depois, nos anos 1960, fruto da “efervescência política do período” a problematizar os papéis públicos e privados das mulheres.
Até mesmo para a “terceira onda” – um movimento a questionar as identidades diversas que compunham o feminismo, o elemento ausente seria a luta das mulheres no mundo do trabalho. É claro que as tensões das relações de trabalho compuseram os diversos momentos do modelo, mas a separação por “ondas” costuma eleger marcos que devem ser considerados hegemônicos a cada período. O questionamento sobre o uso da metáfora das ondas tem sido cada vez mais frequente por considerar que a periodização entrincheira a percepção de um feminismo singular na qual gênero é a categoria predominante de análise, deixando subsumidos os conflitos de raça e de classe.
Dito isto, o acúmulo, até agora pouco discutido, que o movimento de trabalhadoras proporcionou ao feminismo, como campo político, foi o debate da regulação e dos direitos do trabalho. Se hoje podemos falar em economia feminista, ou considerar o valor do cuidado nas relações sociais, entendendo aqui o cuidado com o trabalho gratuito desempenhado por mulheres na limpeza da casa, na criação de crianças – filhas, netos, sobrinhos – e no trato com familiares doentes, é porque este debate emergiu das tensões das relações de trabalho. Mulheres pobres sempre estiveram na força de trabalho por não haver outra opção. E sempre acumularam os afazeres sustentando boa parte da economia nos seus braços.
André Cintra é jornalista
Leia também: Ação no TST pode retomar direitos perdidos com Reforma Trabalhista