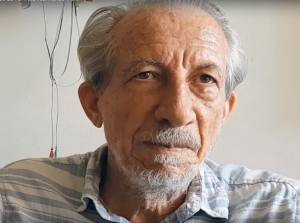 O presidente da República parece buscar meios de proteger os militares de uma futura Comissão da Verdade por crimes a serem cometidos no Rio
O presidente da República parece buscar meios de proteger os militares de uma futura Comissão da Verdade por crimes a serem cometidos no Rio
Na sexta-feira, dia 16, Michel Temer assinou decreto de intervenção na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, nomeou para o comando da operação um general de quatro estrelas, Walter Braga e, no artigo 2 do ato, tornou explícito que a função de Braga era “de natureza militar”. Braga foi autorizado a mandar, de fato: nomeou mais dois generais para postos chaves da operação; definirá o comando de todos os órgãos de segurança do estado: da Polícia Civil, da Militar, do sistema prisional e do Corpo de Bombeiros; e poderá requisitar a todos os órgãos federais os meios necessários à execução de seu mandato, dizem os outros artigos do decreto de Temer.
Qualquer pessoa mais ou menos bem informada sabe, além disso, que a intervenção federal para tentar equacionar os problemas de segurança do Rio é militar e vem de meados do ano passado, embora sob outra das rubricas dos poderes presidenciais: a de autorizar atos GLO, de uso das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem.
Temer diz agora, no entanto, que não se trata de operação militar, mas “civil, cooperativa”. Por que? Tudo indica que ele, como vários de seus auxiliares, quer minimizar os graves problemas da operação militar de ocupação de áreas pobres do Rio, com desrespeito a direitos fundamentais de seus moradores. Mesmo no seu entorno esses problemas apareceram. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Tem, pela Constituição, dois órgãos de assessoramento para decisões desse tipo: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele não os ouviu antes de decretar a intervenção, como bem lembrou o jornalista Jânio de Freitas. Foi ouvi-los a posteriori: na segunda feira, 19, numa reunião única com todos os 28 integrantes dos dois órgãos. Nesta reunião, o general Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército, dizem os jornais que noticiaram o evento, pediu garantias de que os militares não terão pela frente “uma nova Comissão da Verdade”, como a que apurou as violação dos direitos humanos durante a ditadura militar dos anos 1964-1985. Essas garantias tratariam basicamente de dar aos militares na intervenção atual o direito explícito “a mandados coletivos de busca e apreensão para a atuação”, como disse a Folha de S.Paulo, ao noticiar a reunião no dia 20. Com isso, eles poderiam entrar “em um perímetro determinado de casas de moradores sobre os quais não pesam nenhuma suspeita”, disse ainda o jornal.
A intervenção militar é um horror. Não para os círculos próximos do presidente: 1) os dois conselhos, formados em 90% por nomeados dele ou de seus aliados; 2) a Câmara e o Senado, onde o decreto foi aprovado por amplas maiorias; 3) e tambem pelo chamado “mercado” onde a Bolsa deu saltos de satisfação, dia após dia.
A intervenção é um horror para o povo pobre e mais politizado das áreas a serem atingidas por ela, como já se viu. No dia 23, uma semana depois de o decreto ser assinado, uma imagem, reproduzida na primeira página de O Estado de S.Paulo do dia seguinte, mostrava um morador da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, sendo fotografado por um soldado para “checagem de antecedentes criminais”. O jornal disse que a Defensoria Pública do Rio configurava a ação como “constrangimento ilegal” que lembrava “práticas da ditadura militar” dos anos 1964-1985. “O que esperar? O que vem depois disso? Então somos todos suspeitos? Se eu saio para comprar pão, tenho de passar por isso?”, disse ainda ao jornal “um rapaz, vítima da abordagem”: “É muita humilhação. Mas aqui é favela, eles acham que podem tudo. Quero ver fazer isso na Zona Sul”.
As tentativas oficiais de defender os tais mandados de busca e apreensão coletivos foram grotescas. A busca e apreensão prevista no artigo 240 do Código do Processo Penal é permitida à polícia, “com autorização judicial”, “dentro dos limites estabelecidos na Constituição” nos seus artigos 10 e 11. E esses artigos são claros. 10: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. 11: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, por determinação judicial”.
O ministro da Defesa, Raul Jungman, no entanto, numa tentativa de explicação que o jornalista Élio Gáspari chamou de demofóbica, disse que “na realidade urbanística do Rio, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca. Então é preciso ter algo como o mandado coletivo, para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido”. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi na mesma linha: “As zonas de conflito no Rio têm urbanização precária e os endereços não são todos facilmente localizáveis. Sendo assim, é possível que os pedidos sejam feitos com base em posições de GPS, descrevendo áreas da comunidade.”
Os dois ministros sabem, ou deveriam saber, que “esses mandados genéricos são ilegais”, como disse, a propósito de suas declarações o advogado Thiago Bottino, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas. “Não existe no nosso ordenamento jurídico o mandado de busca e apreensão coletivo. [Essa medida] é 100% ilegal. Mesmo que um juiz autorize [um desses mandados], ele será derrubado em instâncias superiores. Imagine se a polícia ou o Exército autorize fazer uma busca e apreensão em um prédio inteiro de Higienópolis”, disse Bottino a O Estado, citando um bairro considerado nobre da capital paulista. Em 2016, disse o jornal O Globo, o governo do Rio usou esse recurso para fazer uma incursão policial na cidade de Deus, uma das áreas pobres do Rio; meses depois, porém, a operação foi anulada pela justiça e todas as provas obtidas tiveram de ser descartadas.
Até mesmo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, protestou contra a ideia dos mandados de busca e apreensão coletivos. Ele disse ao jornal Valor: “O lar é inviolável. Para você entrar numa casa, você precisa de uma autorização judicial. Você não pode ter uma autorização que vale para todos, em aberto, para tudo possível”. Alckmin apoia a intervenção militar no Rio. O artigo do Valor que o cita diz também que em 2000, quando ele era vice do governador Mário Covas, operações policiais eram comuns em favelas das periferias de São Paulo com o uso de mandados de busca e apreensão coletivos”.
Como se sabe, além disso, também para proteger os militares, já envolvidos então com a operação GLO do Rio, o governo fez aprovar em outubro do ano passado, no Congresso Nacional, a Lei 13.491, que assegura que “os delitos dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil serão de competência da Justiça Militar da União”, quando praticados nesse tipo de operação. Em função dessa lei, por exemplo, a chamada “chacina do Salgueiro”, a morte de 7 pessoas, em novembro do ano passado, em um baile funk em São Gonçalo, cidade próxima do Rio, na qual são suspeitos de assassinato 17 soldados do Exército que participaram da operação, até hoje não andou, porque o Comando Militar do Leste, unidade do Exército à qual eles pertencem, até a semana passada não tinha atendido o pedido do Ministério Público do Rio de apresentá-los para depor.
O que uma pessoa razoavelmente bem informada pode esperar da atual intervenção militar no Rio? Na melhor das hipóteses, poucos danos. A jornalista Maria Cristina Fernandes, do jornal Valor Econômico, fez na sexta passada, um resumo do que foi uma das últimas grandes ações do Exército no Rio, na área de segurança, em 2014, antes da Copa do Mundo: a ocupação do Complexo da Maré, uma área de 140 mil moradores. Cristina se baseou num relatório de 120 páginas publicado no ano passado e feito com a colaboração de entidades acadêmicas britânicas, a partir de cerca de mil entrevistas com moradores, por Eliana Souza Silva, uma das criadoras da organização social Redes da Maré. Cristina diz que, ao final de 2014, depois de quinze meses da operação, “um relatório reservado chegou ao gabinete do então ministro da Defesa dizendo que as tropas deveriam ser retiradas o mais rapidamente possível para evitar uma tragédia” porque a intervenção, que fora até bem recebida de início, tinha degringolado e multiplicavam-se os abusos.
Outro trabalho que deve ser lembrado com o mesmo propósito é a grande reportagem da revista Retrato do Brasil, da Editora Manifesto, sobre a ocupação pelas Forças Armadas do chamado Complexo do Alemão, do final de 2010. A ação militar, que enfiou até tanques em ruas estreitas de comunidades pobre, causou danos pesados e estabeleceu uma espécie de estado de sítio sobre a região habitada por dezenas de milhares de famílias de trabalhadores. O apoio que recebeu de muitas pessoas de boa fé foi influenciado pelo intenso bombardeio desencadeado pela mídia das grandes empresas – o diário O Globo, por exemplo, chegou a comparar a operação à retomada de Paris do domínio nazista, na II Guerra Mundial. Como disse a RB na época Paulo Sérgio Pinheiro, estudioso da violência no País e assessor de comissões da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o assunto, “no combate ao tráfico de drogas e à violência nas áreas pobres e degradadas das grandes metrópoles brasileiras, “nenhuma política de segurança efetiva pode estar fundamentada principalmente numa perspectiva da ocupação policial do território e de megaoperações militarizadas”.
Raimundo Rodrigues Pereira é jornalista, foi editor dos semanários Opinião, Movimento e das revistas Realidade, Reportagem e Retrato do Brasil. Trabalhou na Veja, IstoÉ e Carta Capital. Atualmente é diretor da Editora Manifesto que está em campanha: “Por um novo semanário, em defesa da independência nacional, da democracia e da elevação do padrão de vida material e cultural dos trabalhadores”.




















