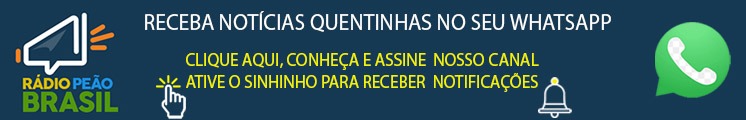Janet Leigh na famosa cena do filme Psicose, clássico de Alfred Hitchcock.
Por Carolina Maria Ruy
Na última semana, como um respiro ao intenso debate político que domina os grupos de Whatsapp, surgiram, por duas vezes, a questão da arte comercial versus arte “pura e verdadeira”.
Este debate me interessa, sobretudo quando ele é um pretexto para entender a política e a história. Lembro, nos idos da década de 1990, de debates no Colégio Equipe onde filhos da elite intelectual defendiam bravamente que a música pop, em suas mais diversas manifestações, não eram arte e cultura, eram apenas objetos de consumo, enquanto arte eram os clássicos como Mozart (lembrando que Mozart foi pop à sua época).
Esta visão sempre me incomodou. Não creio que o componente comercial necessariamente elimine o componente artístico. E, para problematizar esta afirmação, deixo as questões: A edição de uma sinfonia de Beethoven, que chega a vender milhões, a transforma numa obra “comercial”? O Poderoso Chefão, que arrecadou mais de US$ 245 milhões de dólares no mundo, é arte ou objeto de consumo? O filme Psicose, de Alfred Hitchcock, é arte ou consumo apenas? Os Beatles? Woody Allen? Frank Sinatra? E Madonna e Michael Jackson? Alguém dirá que os reis do pop não inovaram artisticamente e não exerceram influência em todas as gerações subsequentes?
Há dois anos atrás escrevi um prefácio para o ótimo livro, Desenhos animados – olhar além da tela, do pesquisador Cláudio Vieira, no qual ele analisa o histórico e o papel dos desenhos animados na mentalidade social. Sua pesquisa deixa claro que o processo de produção artística, técnica e comercial são muito complexos e não excludentes entre si.
No meu prefácio citei o livro Para ler o Pato Donald, comunicação de massa e colonialismo, de Ariel Dorfman e Armand Mattelart, escrito como um panfleto em 1971. O interessante do livro é que, ao analisar a influência do personagem de Walt Disney sobre as crianças, os autores não o taxam de “comercial” como forma de encerrar o assunto. Ao contrário disso, eles analisam as mensagens políticas e sociais contidas no desenho. Assumem, portanto, que há nele um forte conteúdo político e social, e não apenas uma sequência animada de atos superficiais e efêmeros para entreter e alienar crianças consumidoras.
Por isso avalio que precisamos ter cuidado com estas classificações. Não é razoável taxar toda uma produção cultural que atinge milhões de pessoas, de arte ou estética comercial, como uma massa indiferenciada.
Esta distinção, entre arte autêntica e arte comercial, pode até ser um critério genérico para classificar obras que ousam se arriscar, que ousam propor visões de mundo que podem estar na contramão do seu valor de venda. Ou para classificar obras demandadas pela indústria, produzidas em escala, com potencial de venda garantido. E esse debate foi muito explorado nas décadas de 1960 e 70, como reação ao consumismo do pós-guerra.
Mas precisamos avançar neste debate e entender que é algo limitador, tão limitador quanto qualquer preconceito, quando esta distinção se torna mero instrumento de elitização da arte e da cultura. Existem obras ditas “autênticas” que tem um valor experimental, mas não vão além disso. Sustentam-se por validarem um nicho que ostenta a propalada “autenticidade da arte”. Por outro lado, existem obras com alto valor comercial e que possuem a mesma proporção de valor artístico e cultural, como os filmes que já citei, além de outros como a trilogia Batman de Christopher Nolan, diversas obras da Pixar, como Ratatouille e Wall-E, além de séries de TV, cada vez mais sofisticadas e que atualmente geram um importante debate na sociedade (entre as séries cito: Sopranos, Mad Men e Merli).

O rato Rémy e o aprendiz Linguini, no nostálgico Ratatouille, da Pixar.
O limite é estreito, não entre arte “comercial” e “autêntica” – mas entre “arte”, simplesmente e aquela que as pretensas elites culturais aprovam, com o rótulo de “cult”. E os critérios para a determinação deste rótulo também expressam uma postura política de gueto, fechada a poucos “iluminados”.
Além disso é preciso considerar que muitos críticos mordazes da arte comercial nas décadas de 1960 e 1970, hoje produzem arte e estão no mercado.
Penso que teríamos uma avaliação mais honesta sobre a arte se admitirmos criticamente a genuidade de seus aspectos criativo e artístico em todas as suas manifestações.
No limite, este debate nos levará a algo muito além da divisão entre comercial e autêntico. Ele esbarrará na formação da linguagem, no desenvolvimento da comunicação e na construção social da sensibilidade humana.
Carolina Maria Ruy é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical.