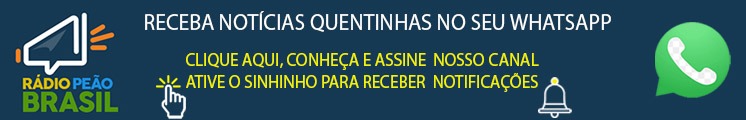Protesto contra a guerra do Vietnã em 1968
Marcado por campanhas raciais, enfrentando uma feroz resistência de justiça social, o incansável desafio de uma “preocupada e problemática” geração, questões sobre controle de armas no despertar de devastadora violência, e o “medo, frustração e raiva” que definiram a eleição presidencial. Esse ano foi 1968 nos Estados Unidos da América.
Eleição de Richard Nixon; assassinatos de Martin Luther King Jr e Robert F. Kennedy; e generalizados protestos contra o racismo, sexismo, e contra a Guerra do Vietnã. Adiante do 50º aniversário desses eventos que chacoalharam o mundo, as questões e preocupações que então dirigiam a conversação nacional continuam surpreendentemente relevantes. Aqueles que viveram e estudaram 1968 apontam lições que o ano pode transmitir para entender o país hoje.
Quando se trata de política, historiadores veem similaridades no partidarismo, assim como as divisões internas dos partidos abastecendo um sentimento de ruptura. Jeremi Suri, um professor de história da Universidade do Texas em Austin que tem escrito sobre o impacto global de 1968, diz que enquanto tais mudanças podem significar problemas para um partido político, elas frequentemente são boas para a nação a longo prazo, forçando debates sobre fundamentais discordâncias culturais.
Ele vê outro paralelo no papel dos jovens dirigindo essa mudança. Os Democratas possuem suas vitórias nas recentes eleições em Virgínia e Alabama, para uma onda de mudança no voto dos jovens e negros – que pode ser atribuído a uma reação adversa contra o Presidente Trump. Mas será que essa reação é forte o suficiente para trazer vitórias aos Democratas em fortalezas Republicanas? Suri prevê que sim, antecipando um eco político da revolta liderada pelos jovens contra o status quo em 1968.
A América do presente oferece uma sóbria lição sobre a natureza do progresso social. “Eu penso que as coisas que conquistamos vão ficar”, diz Alix Kates Shulman, que ajudou a planejar um protesto no concurso de Miss América em 1968, onde mulheres marcharam nas calçadas de Atlantic City, jogando fora sutiãs, cintas e revistas Playboy, enquanto carregavam cartazes que condenavam a opressão e objetificação da mulher. “Nós aprendemos, infelizmente, que nada era seguro. E, em certo sentido, essa foi uma boa lição, porque me manteve lá para o longo prazo”, ela diz.

Tommie Smith e John Carlos, fazem o gesto consagrado pelo movimento dos Panteras Negras, durante a cerimônia das medalhas nos Jogos Olímpicos de 1968
Esse entendimento da necessidade persistente do protesto e a recorrência das batalhas pelos mesmos direitos é talvez a lição mais importante de todas. Poucos exemplos capturam isso como a saudação ao poder negro dada pelos atletas americanos Tommie Smith e John Carlos durante a cerimônia das medalhas nos Jogos Olímpicos de 1968. Smith e Carlos foram suspensos do Time Olímpico dos Estados Unidos e não foram largamente celebrados como heróis dos direitos civis até pelo menos vinte anos após seu protesto, quando sua declaração radical estava “seguramente confinada nos livros de história”, diz Douglas Hartmann, autor de Raça, Cultura e a Revolta dos Atletas Negros. Da mesma forma, Hartmann prevê que a controvérsia em curso dos jogadores da NFL ajoelhando-se durante o hino nacional, para protestar contra a brutalidade da polícia, vai ser vista diferente em poucas décadas, com o catalisador Colin Kaepernick amplamente reconhecido como uma liderança e força positiva em pautas de justiça social.
Os eventos do ano passado serviram como um lembrete que muitas das velhas batalhas são novas de novo, e isso deve permanecer verdadeiro em 2018. “O motor da história da América é cíclico”, diz Suri notando que os movimentos sociais nem sempre mudam mentes e políticas imediatamente, mas eles importam “enormemente” a longo prazo.
“Não é um momento, mas um compromisso”, diz Shulman, que continua a se organizar pelos direitos das mulheres hoje. “Ao invés de desistir e abandonar, quando coisas más acontecem, você apenas dobra e protesta mais”.
Adaptado para o português por Luciana Cristina Ruy
Fonte: Time.com