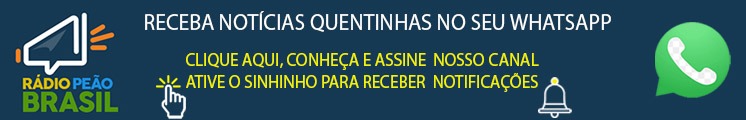“Há uma morte negra que não tem causa em doenças; decorre de infortúnio. É uma morte insensata, que bule com as coisas da vida, como a gravidez e o parto. É uma morte insana, que aliena a existência em transtornos mentais. É uma morte de vítima, em agressões de doenças infecciosas ou de violência de causas externas. É uma morte que não é morte, é mal definida. A morte negra não é um fim de vida, é uma vida desfeita […]”(BATISTA; ESCUDER; PEREIRA, 2004, p.635)
“Há uma morte negra que não tem causa em doenças; decorre de infortúnio. É uma morte insensata, que bule com as coisas da vida, como a gravidez e o parto. É uma morte insana, que aliena a existência em transtornos mentais. É uma morte de vítima, em agressões de doenças infecciosas ou de violência de causas externas. É uma morte que não é morte, é mal definida. A morte negra não é um fim de vida, é uma vida desfeita […]”(BATISTA; ESCUDER; PEREIRA, 2004, p.635)
O parágrafo acima, retirado de um importante estudo sobre as causas de óbito segundo a raça no estado de São Paulo, retrata um cenário que há muito vem mobilizando os movimentos sociais negros: as iniquidades observadas nas condições de saúde da população negra brasileira. Em uma trajetória longa – que, deve-se frisar, sempre teve seus primeiros passos dados pelo movimento negro civil – vem-se tentando estabelecer dados e informações em saúde que justifiquem os achados de trabalhos como o supracitado.
A população negra representa, não apenas a maior parte da população brasileira, segundo o último censo do IBGE, como também representa a grande maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): 76% dos atendimentos e 81% das internações no SUS são de usuários negros e negras. Também é essa população que figura entre as piores condições socioeconômicas: maiores taxas de analfabetismo, menores salários, piores condições de habitação e acesso a saneamento, por exemplo.
Então, não seriam esses fatores suficientes para justificar as piores condições de saúde dentre a população negra? A resposta é não. Diversos estudos que estratificam dados por renda ou escolaridade demonstram que as desigualdades em saúde permanecem mesmo dentre grupos socioeconomicamente semelhantes, ou seja: a raça, por si só, é um fator determinante da saúde. Em um estudo clássico sobre discriminação salarial, Soares revela que, se a discriminação de raça e gênero fosse extinta, mulheres negras ganhariam 60% mais; mulheres brancas 40% mais; e homens negros 10 a 25% mais.
As iniquidades são reveladas nas mais diversas esferas da saúde. Não se tem, neste artigo, a intenção de detalhar todos esses números; porém, alguns dos mais relevantes dados são aqui listados: nas capitais brasileiras, a taxa de mortalidade materna é cerca de 7 vezes maior entre mulheres negras em relação às brancas; negras e negros morrem 3 vezes mais por tuberculose; o número de consultas pré-natal é menor e a taxa de peregrinação em maternidades é maior para mulheres negras; o risco de morte antes dos 5 anos por causas infectoparasitárias é 60% maior em crianças negras; o risco de morte por desnutrição é 90% maior entre crianças negras; as taxas de mortalidade por AIDS são o dobro para mulheres e homens negros.
Chamam atenção ainda os dados em saúde mental: negras e negros estão mais vulneráveis à dependência a álcool e drogas ilícitas, bem como apresentam maiores índices de sofrimento psíquico e figuram entre as maiores taxas de suicídio. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre adolescentes negros e negras de 15 a 29 anos, suicídio chega a ser a terceira causa de morte.
A violência também não pode ser esquecida: 53,4% dos mortos por homicídio em 2012 eram jovens, dos quais 77% negros. Os últimos mapas da violência revelam tendência a queda no número de homicídios na população branca e aumento de homicídios na população negra. Na população jovem, entre 2002 e 2012, a taxa cai 28,6% para brancos e aumenta 6,5% para negros. A taxa de vitimização aumentou de 73% em 2002 para 146,5% em 2012 (ou seja, morreram proporcionalmente 146,5% mais negros que brancos). Entre as mulheres, a taxa de homicídios aumentou 19,5% para as negras e caiu 11,9% para as brancas. Para alguns pesquisadores, a violência pode ser vista como um instrumento ideológico de controle populacional através da eliminação de certas populações.
Mas, mais importante que qualquer porcentagem ou dado duro, a saúde de negras e negros é influenciada diretamente pelas experiências de discriminação vivenciadas ao longo da vida e seus efeitos subjetivos. Na psicologia social, compreende-se que o racismo impacta na vida do ser humano a partir do momento em que limita o desenvolvimento do seu ‘espaço potencial’. É necessário um ambiente ‘bom o bastante’ para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades dentro do que a vida e a cultura lhe apresentam.
O racismo institucional, caracterizado como um fracasso coletivo das organizações e instituições em prover serviços iguais a grupos raciais diferentes, é o racismo que extrapola as relações interpessoais e está enraizado em todas as esferas da nossa sociedade. Revela-se, por exemplo, em um fato curioso: nenhum dos sistemas de informação em saúde sequer contava com o quesito raça/cor até poucos anos atrás. O “piloto” da introdução desse quesito nos sistemas de informação em saúde foi o SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos), em 1996. Até os dias atuais, sistemas como o SIAB (Sistema de Informação em Atenção Básica) não possuem quesito raça/cor.
Mais perverso que o descaso com a produção de informação entre as variáveis raça e saúde é o fato de que, naqueles sistemas que contam com o quesito raça/cor, frequentemente os dados gerados são inutilizáveis porque em sua maioria são ignorados pelo profissional de saúde que os preenche.
O mito da democracia racial brasileira, muitíssimo bem pensado e arquitetado dentro de um processo histórico favorável, baseado na concepção de embranquecimento e eugenização que culminaria no anunciado “novo homem nacional”, não só permite a perpetuação do ciclo opressor e racista, como faz os esforços de deter esse ciclo parecerem desnecessários. Ele invisibiliza o racismo estrutural vivenciado diariamente por negras e negros, justificando que somos todas e todos iguais, propagando a ideia de harmonia racial.
Na contramão deste processo que vem se perpetuando há tantos anos, e baseada nos dados levantados até então, que apontavam diferenças significativas nas condições de saúde da população negra, foi aprovada em 2006 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), lançada em 2009 pelo Ministério da Saúde. Essa Política, dada como um marco de uma longa caminhada, nada mais é do que o caminho para atingir um dos princípios do Sistema Único de Saúde: a equidade. É um engano acreditar que equidade significa oferecer o mesmo serviço a populações em situações de saúde diferentes. Ao contrário, para que a real equidade seja alcançada, deve-se obedecer ao princípio de justiça redistributiva, ou seja, definir meios devidamente adequados às populações vulneráveis e marginalizadas para que os fins alcançados sejam os mesmos: o cuidado integral e o bem-estar.
A PNSIPN, uma política afirmativa, que visa a reparar iniquidades históricas e atuais, tem, para alguns pesquisadores, cunho pedagógico, à medida que fomenta o debate da temática racial na saúde e insere essa pauta na academia e no dia-a-dia dos profissionais. Mas, como toda política afirmativa, sofre críticas dos que acreditam se tratar de um “privilégio”. Essa ideia reproduz processos discriminatórios através de discursos que pregam a justiça e a igualdade, porém se opõem às políticas que visam a atingir de fato esse fim.
Enfim, estudar e debater saúde da população negra é, não só essencial e necessário, como também simbólico: significa dar voz àquelas e àqueles que sempre estiveram às margens das políticas públicas. Na saúde, área que abriu os olhos para essa temática tardiamente, as questões raciais revelam a mais nua e crua realidade de um país racista, em que vidas negras continuam, diariamente, sendo desfeitas.
Camila Carvalho Amorim é Médica de Família e Comunidade, membro fundadora do Coletivo NegreX de negras e negros da medicina, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros.